9. a proposição: dois tipos diferentes quanto à origem interna ou externa à linguagem, do valor que carregam
O fenômeno ‘operações’ (em qualquer área): visões com duas abrangências muito diferentes dependendo da leitura que fazemos.
As duas possibilidades de inserção do ponto de início da leitura do fenômeno ‘operações’ – de qualquer tipo – e a análise das diferentes origens do valor carregado pelas proposições para as representações em função da inserção do ponto de início de leitura de ‘operações’;
Note-se que as condições para a ocorrência da troca – a existência simultânea dos dois objetos de troca, o que é dado e o que é recebido – são satisfeitas em duas situações:
- 1. no pensamento clássico pelo posicionamento do ponto de início de leitura sob essa condição, quer dizer, a existência prévia do que é dado e do que é recebido;
- 2. no pensamento moderno, pela satisfação dessa pré-condição no início do Instanciamento da representação, porém com a condição da execução anterior da Construção da representação, também incluída no escopo da operação.
Nos pontos marcados por setas amarelas para baixo (1) e (2) as pré-condições para a ocorrência da troca são dadas, qualquer que seja a estrutura de pensamento – clássico ou moderno – segundo o pensamento de Michel Foucault.
O que não muda entre essas duas possibilidades
A proposição como bloco construtivo padrão fundamental e genérico para construção de representações e suas duas possibilidades de carregamento de valor, quanto às respectivas origens
A proposição é para a linguagem
o que a representação é
para o pensamento:
sua forma, ao mesmo tempo
mais geral e mais elementar,
porquanto, desde que a decomponhamos, não reencontraremos mais o discurso,
mas seus elementos
como tantos materiais dispersos.
As palavras e as coisas:
uma arqueologia das ciências humanas;
Capítulo IV – Falar;
tópico III – Teoria do verbo
Michel Foucault
(…) Em outras palavras,
para que, numa troca,
uma coisa possa representar outra,
é preciso que elas existam
já carregadas de valor;
e, contudo,
o valor só existe
no interior da representação
As palavras e as coisas:
uma arqueologia das ciências humanas;
Capítulo VI – Trocar;
V. A formação do valor
Michel Foucault
O que sim muda entre essas duas possibilidades
A origem do valor carregado pelo veículo de carregamento de valor na representação: a proposição, sempre, porém em linguagens essencialmente diferentes e representações com origens de valor distintas.
“Valer, para o pensamento clássico,
é primeiramente valer alguma coisa,
poder substituir essa coisa num processo de troca.
A moeda só foi inventada,
os preços só foram fixados e só se modificam
na medida em que essa troca existe.
Ora, a troca é um fenômeno simples
apenas na aparência.
Com efeito, só se troca numa permuta,
quando cada um dos dois parceiros
reconhece um valor
para aquilo que o outro possui.
Num sentido, é preciso, pois,
que as coisas permutáveis,
com seu valor próprio,
existam antecipadamente nas mãos de cada um,
para que a dupla cessão e a dupla aquisição
finalmente se produzam.
Mas, por outro lado,
- o que cada um come e bebe,
aquilo de que precisa para viver
não tem valor
enquanto não o cede; - e aquilo de que não tem necessidade
é igualmente desprovido de valor
enquanto não for usado
para adquirir alguma coisa de que necessite.
Em outras palavras,
para que, numa troca,
uma coisa possa representar outra,
é preciso que elas existam
já carregadas de valor;
e, contudo,
o valor só existe
no interior da representação
- (atual [troca imediata]
- ou possível [permutabilidade]),
isto é, no interior
- da troca
[representação existente] - ou da permutabilidade
[representação possível].
As palavras e as coisas:
uma arqueologia das ciências humanas;
Capítulo VI – Trocar;
V. A formação do valor
Michel Foucault
O funcionamento da troca em cada uma das duas possibilidades de leitura do fenômeno ‘operação’: no ato mesmo da troca; ou anterior à troca, na criação das condições de troca
“Daí duas possibilidades simultâneas de leitura:
- leitura já dadas as condições de troca;
- leitura na permutabilidade, isto é na criação de condições de troca
1 uma analisa o valor
no ato mesmo da troca,
no ponto de cruzamento
entre o dado e o recebido;
- A primeira dessas duas leituras corresponde a uma análise que coloca e encerra
- toda a essência da linguagem no interior da proposição;
3 no primeiro caso, com efeito, a linguagem encontra seu lugar de possibilidade numa atribuição assegurada pelo verbo – isto é, por esse elemento da linguagem em recuo relativamente a todas as palavras mas que as reporta umas às outras; o verbo, tornando possíveis todas as palavras da linguagem a partir de seu liame proposicional, corresponde à troca que funda, como um ato mais primitivo que os outros, o valor das coisas trocadas e o preço pelo qual são cedidas;
2 outra analisa-o
como anterior à troca
e como condição primeira
para que esta possa ocorrer.
- a outra, a uma análise que descobre essa mesma essência da linguagem do lado das
- designações primitivas
- linguagem de ação ou raiz;
4 a outra forma de análise, a linguagem está enraizada
fora de si mesma e como que
- na natureza, ou nas
- analogias das coisas;
a raiz, o primeiro grito que dera nascimento às palavras antes mesmo que a linguagem tivesse nascido, corresponde à formação imediata do valor, antes da troca e das medidas recíprocas da necessidade.”
As palavras e as coisas:
uma arqueologia das ciências humanas;
Capítulo VI – Trocar;
V. A formação do valor
Michel Foucault
Esta segunda leitura para ‘operações’
– que orienta a análise de valor
desde antes do momento da troca -,
não é possível sem a presença do homem
na estrutura dos modelos.
Isso fica bastante claro com a descrição da forma de reflexão que se instaura em nossa cultura depois da descontinuidade epistemológica de 1775-1825
Esses dois pontos de inserção da leitura da operação de troca
mostrados nos modelos de operações

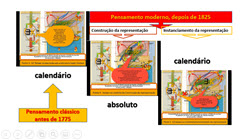



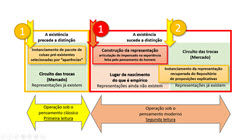





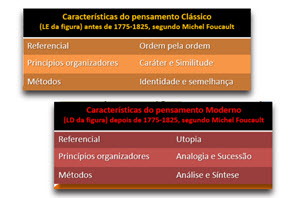







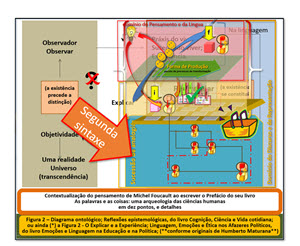

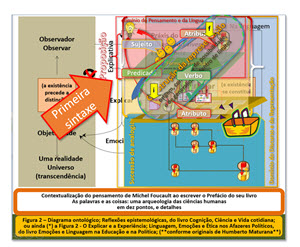
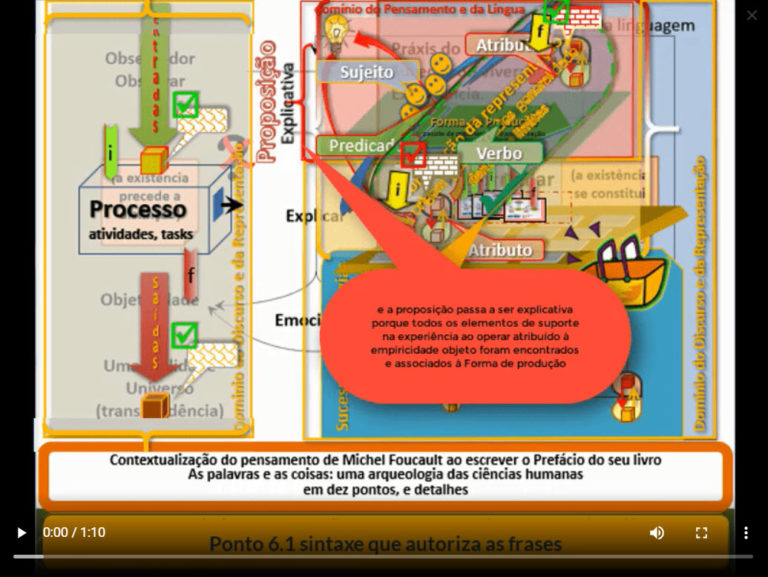





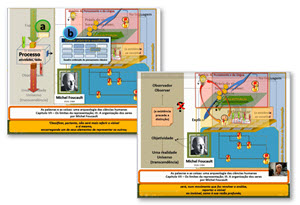




























































































































































































Comentários