Capítulo IV. Falar; tópico I. Crítica e comentário
A existência da linguagem na idade clássica é a um tempo
- soberana
- e discreta.
Soberana, pois que as palavras receberam a tarefa e o poder de “representar o pensamento”.
Mas representar não quer dizer aqui traduzir, dar uma versão visível, fabricar um duplo material que possa, na vertente externa do corpo, reproduzir o pensamento em sua exatidão.
Representar deve-se entender no sentido estrito:
- a linguagem representa o pensamento
- como o pensamento se representa a si mesmo.
Não há, para constituir a linguagem ou para animá-Ia por dentro, um ato essencial e primitivo de significação, mas tão-somente, no coração da representação, este poder que ela detém de se representar a si mesma, isto é, de se analisar em se justapondo, parte por parte, sob o olhar da reflexão e de se delegar, ela própria, num substituto que a prolongue.
Na idade clássica, nada é dado que não seja dado à representação; mas, por isso mesmo, nenhum signo surge, nenhuma fala se enuncia, nenhuma palavra ou nenhuma proposição jamais visa a algum conteúdo senão pelo jogo de uma representação que se põe à distância de si, se desdobra e se reflete numa outra representação que lhe é equivalente.
As representações não se enraízam num mundo do qual tomariam emprestado seu sentido; abrem-se por si mesmas para um espaço que lhes é próprio e cuja nervura interna dá lugar ao sentido. E a linguagem está aí, nessa distância que a representação estabelece consigo mesma.
As palavras não formam, pois, a tênue película que duplica o pensamento do lado de sua fachada; elas o lembram, o indicam, mas primeiramente em direção ao interior, em meio a todas estas representações que representam outras.
Muito mais do que se crê, a linguagem clássica está próxima do pensamento que ela é encarregada de manifestar; não lhe é, porém, paralela; está presa na sua rede e tecida na trama mesma que ele desenvolve.
Não é efeito exterior do pensamento, mas o próprio pensamento.
E, desse modo, ela se faz invisível ou quase. Tornou-se, em todo o caso, tão transparente à representação que seu ser cessa de constituir problema.
O Renascimento detinha-se diante do fato bruto de que havia linguagem: na espessura do mundo, um grafismo misturado às coisas ou correndo por sob elas; siglas depositadas nos manuscritos ou nas folhas dos livros.
E todas essas marcas insistentes demandavam uma linguagem segunda – a do comentário, da exegese, da erudição – para fazer falar e tornar enfim móvel a linguagem que nelas dormitava; o ser da linguagem precedia, como que com muda obstinação, o que nela se podia ler e as palavras com as quais se fazia com que ele ressoasse.
A partir do século XVII, é essa existência maciça e intrigante da linguagem que se acha elidida. Não aparece mais encoberta no enigma da marca: não aparece ainda desenvolvida na teoria da significação.
Em última análise, poder-se-ia dizer que a linguagem clássica não existe. Mas que funciona: toda a sua existência assume lugar no seu papel representativo, a ele se limita com exatidão e acaba por nele esgotar-se.
A linguagem não tem mais outro lugar senão a representação, nem outro valor senão em si mesma: nesse vão que ela tem poder de compor.
Com isso, a linguagem clássica descobre certa relação consigo mesma que até então não fora nem possível nem mesmo concebível.
Em relação a si mesma, a linguagem do século XVI estava numa postura de perpétuo comentário:
- ora, este só pode exercer-se se houver linguagem – linguagem que pré-exista silenciosamente ao discurso pelo qual se tenta fazê-Ia falar;
- para comentar, é preciso a antecedência absoluta do texto;
- e inversamente, se o mundo é um entrelaçamento de marcas e de palavras, como falar dele senão sob a forma do comentário?
A partir da idade clássica, a linguagem se desenvolve no interior da representação e nesse desdobramento de si mesma que a escava.
Doravante, o Texto primeiro se apaga e, com ele, todo o fundo inesgotável de palavras cujo ser mudo estava inscrito nas coisas; só permanece a representação, desenrolando-se nos signos verbais que a manifestam e tornando-se assim discurso.
O enigma de uma palavra que uma segunda linguagem deve interpretar foi substituído pela discursividade essencial da representação: possibilidade aberta, ainda neutra e indiferente, mas que o discurso terá por tarefa concluir e fixar.
Ora, quando esse discurso se torna, por sua vez, objeto de linguagem,
- não é interrogado como se dissesse alguma coisa sem o dizer, como se fosse uma linguagem retida em si mesma e uma palavra fechada;
- não se busca mais desvelar o grande propósito enigmático que está oculto sob seus signos;
- pergunta-se-lhe como ele funciona:
- que representações ele designa,
- que elementos recorta e recolhe,
- como analisa e compõe,
- que jogo de substituições lhe permite assegurar seu papel de representação.
O comentário cedeu lugar à crítica.
Essa relação nova que a linguagem instaura para consigo mesma não é nem simples nem unilateral.
Aparentemente
- a crítica se opõe ao comentário
- como a análise de uma forma visível à descoberta de um conteúdo oculto.
Mas como essa forma é a de uma representação, a crítica só pode analisar a linguagem em termos de verdade, de exatidão, de propriedade ou de valor expressivo.
Daí o papel misto da crítica e a ambiguidade de que jamais pôde desfazer-se.
- Ela interroga a linguagem como se esta fosse pura função, conjunto de mecanismos, grande jogo autônomo dos signos;
- mas não pode, ao mesmo tempo, deixar de lhe apresentar a questão de sua verdade ou de sua mentira, de sua transparência ou de sua opacidade, portanto do modo de presença daquilo que ela diz nas palavras pelas quais o representa.
É a partir dessa dupla necessidade fundamental que a oposição do fundo e da forma surgiu pouco a pouco e ocupou finalmente o lugar que conhecemos. Mas essa oposição, sem dúvida, só foi consolidada tardiamente, quando, no século XIX, a relação crítica, por sua vez, tornou-se frágil.
Na época clássica, a crítica se exerce, sem dissociação e como que em bloco, sobre o papel representativo da linguagem. Ela assume, então, quatro formas distintas ainda que solidárias e articuladas uma à outra.
- Desenvolve-se primeiro na ordem reflexiva, como uma crítica das palavras: impossibilidade de construir uma ciência ou uma filosofia com o vocabulário recebido; denúncia dos termos gerais que confundem o que é distinto na representação e dos termos abstratos que separam o que deve permanecer solidário; necessidade de constituir o tesouro de uma língua perfeitamente analítica.
- Manifesta-se também na ordem gramatical como uma análise dos valores representativos da sintaxe, da ordem das palavras, da construção das frases: será uma língua mais aperfeiçoada quando dispõe de declinações ou de um sistema de preposições? Será preferível que a ordem das palavras seja livre ou rigorosamente determinada? Que regime dos tempos melhor exprime as relações de sucessão?
- A crítica se dá também seu espaço no exame das formas da retórica: análise das figuras, isto é, dos tipos de discursos com o valor expressivo de cada um, análise dos tropos, isto é, das diferentes relações que as palavras podem manter com um mesmo conteúdo representativo (designação pela parte ou pelo todo, pelo essencial ou pelo acessório, pelo evento ou pela circunstância, pela própria coisa ou pelos seus análogos).
- Enfim a crítica, perante a linguagem existente e já escrita, se dá por tarefa definir a relação que ela mantêm com o que representa: é dessa maneira que a exegese dos textos religiosos incumbiu-se, a partir do século XVII, de métodos críticos: com efeito, já não se tratava mais de redizer o que já havia sido dito neles, mas de definir através de que figuras e imagens, seguindo que ordem, para que fins expressivos e para dizer qual verdade, tal discurso fora sustentado por Deus ou pelos Profetas sob a forma que nos foi transmitida.
Tal é, na sua diversidade, a dimensão crítica que se instaura necessariamente, quando a linguagem se interroga a si mesma a partir de sua função.
Desde a idade clássica, comentário e crítica opõem-se profundamente.
- Falando da linguagem em termos de representações e de verdade, a crítica a julga e a profana.
- Mantendo a linguagem na irrupção de seu ser e questionando-a em direção de seu segredo, o comentário se detém perante o caráter íngreme do texto prévio e dá-se a tarefa impossível, sempre renovada, de repetir em si seu nascimento: sacraliza-o.
Essas duas maneiras de a linguagem fundar uma relação consigo mesma vão entrar doravante numa rivalidade de que ainda não saímos. E que talvez se reforça dia a dia.
É que a literatura, objeto privilegiado da crítica, não cessou, desde Mallarmé, de se aproximar daquilo que é a linguagem no seu ser mesmo e, com isso, ela solicita uma linguagem segunda que não seja mais em forma de crítica mas de comentário.
E, com efeito, todas as linguagens críticas, desde o século XIX, se impregnaram de exegese, um pouco como as exegeses da época clássica estavam impregnadas de métodos críticos.
Contudo, enquanto a dependência da linguagem relativamente à representação não for desfeita em nossa cultura ou ao menos contornada, todas as linguagens segundas estarão presas na alternativa da crítica ou do comentário.
E proliferarão ao infinito na sua indecisão.
























































































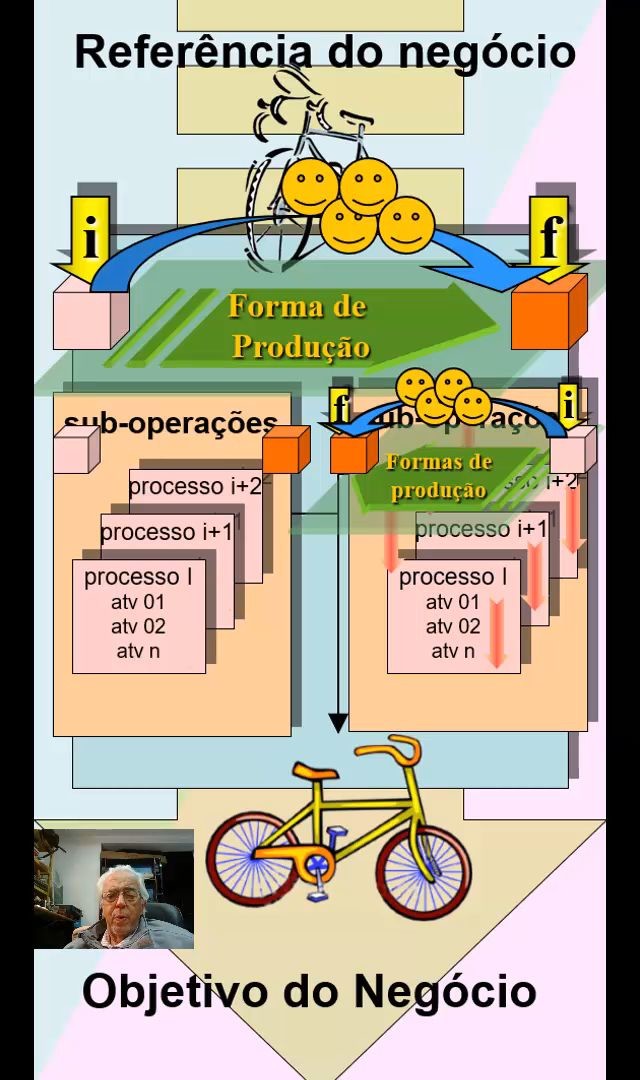
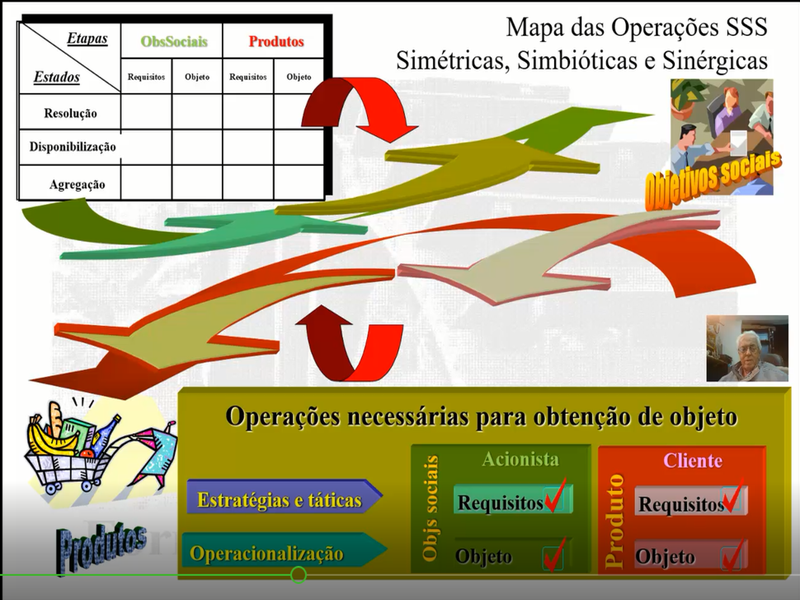
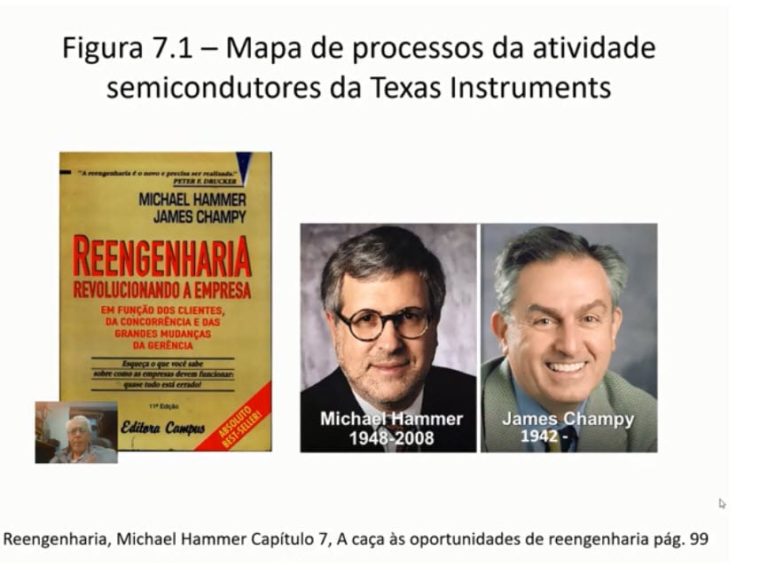
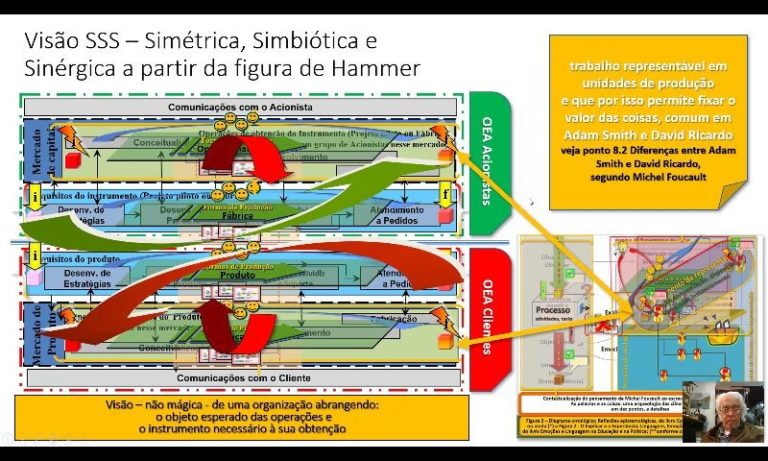


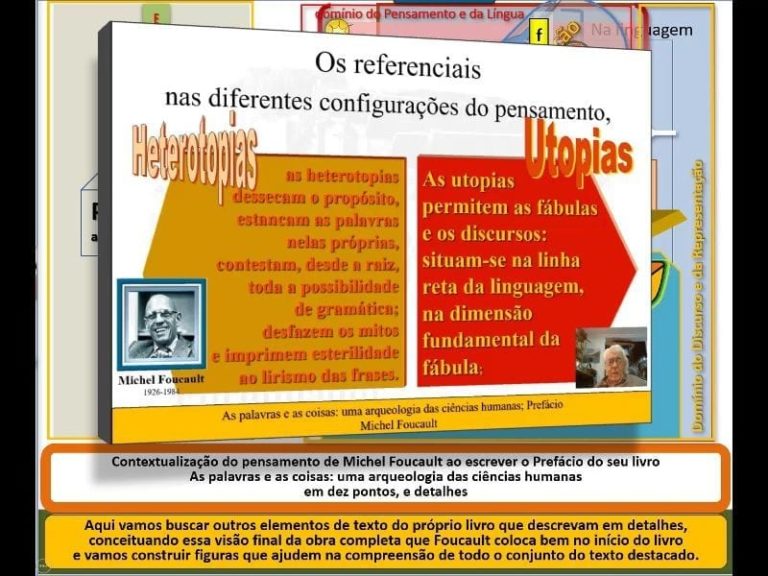
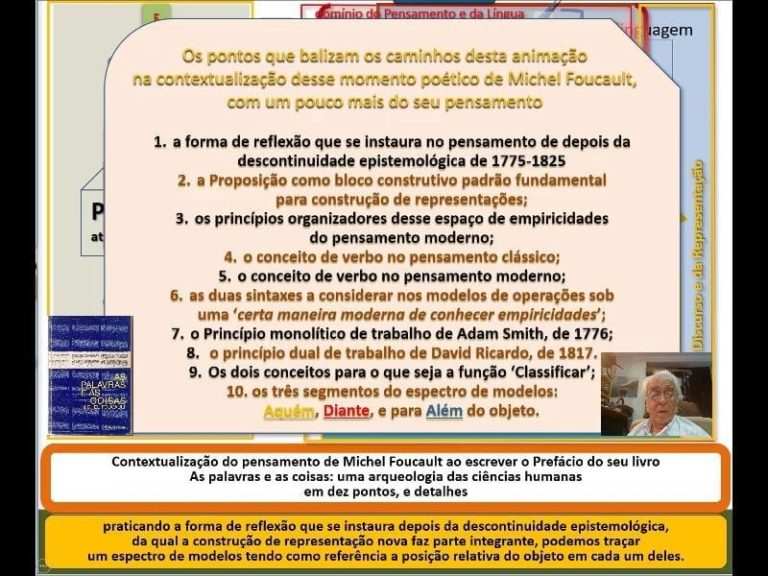
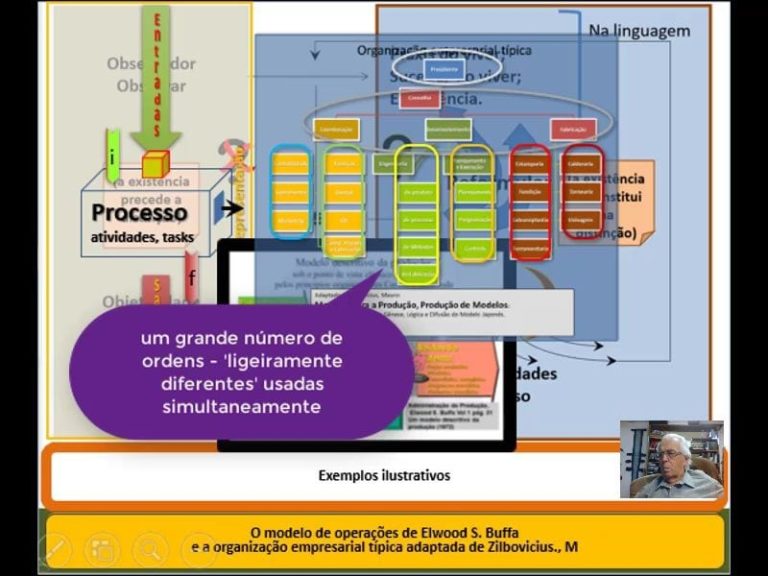
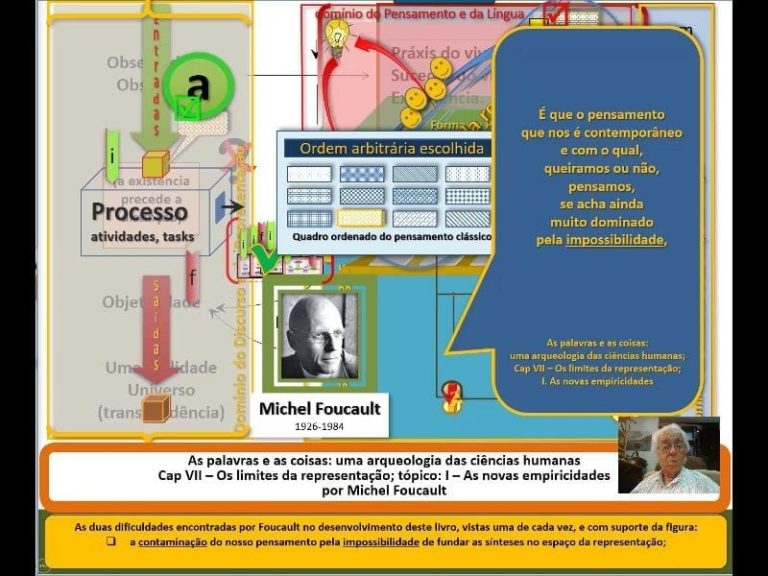













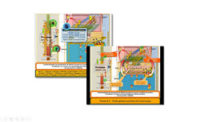























































































Comentários